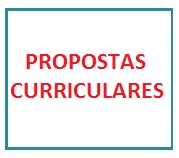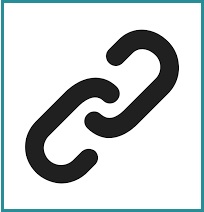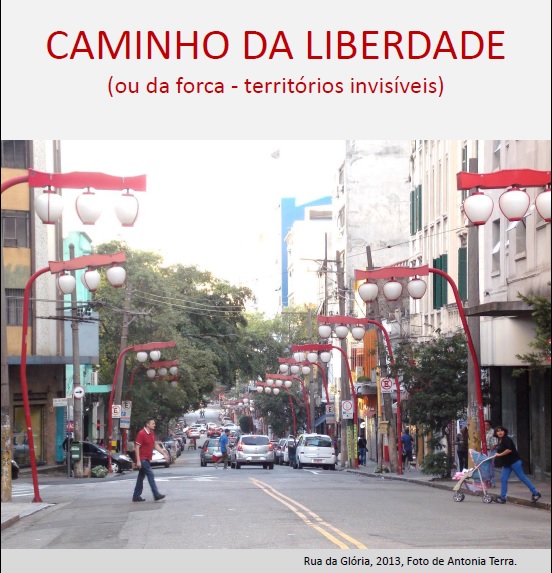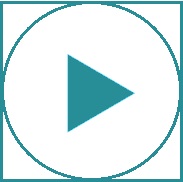Para ouvir a loucura: o silêncio e a manipulação na Ditadura Militar (1964 – 1985)
Aluno: Rafael Lima Capellari Nº USP: 6837800
Ensino de História: Teoria e Prática Profª Drª Antonia Terra Calazans Fernandes
Sequência didática
Para ouvir a loucura:
o silêncio e a manipulação na Ditadura Militar (1964 – 1985)
Sequência Didática
O presente trabalho busca trazer um aspecto pouco explorado sobre a ditadura militar, ainda menos explorado no que diz respeito ao seu caráter pedagógico. A loucura, como conhecimento médico fica, normalmente, fechada à discussão. No programa “Sem censura” de 2009, que debateu a reforma psiquiátrica, por vezes, os argumentos ficavam engessados no termo “é uma doença”. Não me posiciono aqui contra ou a favor da criação de leitos, mas tratar a questão apenas desta forma não basta. A reforma psiquiátrica está diretamente relacionada com a abertura política. Durante a ditadura presos políticos foram encarcerados em Hospícios e a arbitrariedade nas internações revelava a arbitrariedade com que se encontravam os direitos do cidadão.
O papel desta sequência didática é instigar o aluno. Trazer para ele a brutalidade da atuação da ditadura sobre a vida e sobre a sociedade. A questão da superlotação e do descaso dos chamados “depósitos humanos” se tornou tão latente durante a ditadura militar que um movimento de funcionários e da população se mobilizou nos anos 70 para rever e garantir condições humanas para os internados e cabe ressaltar que Basaglia e Foucault já haviam visitados os hospitais psiquiátricos no Brasil e relatados suas posturas negativas quanto às condições destes locais.